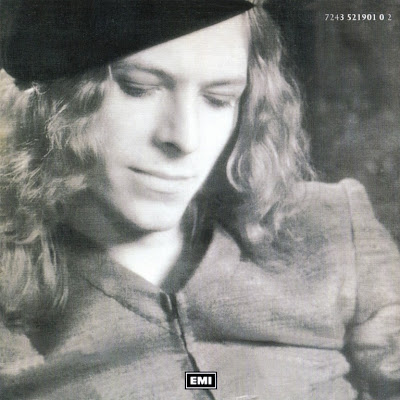As pessoas me perguntam o que inventei pra substituir a atividade de músico, que praticamente não exerço mais. Quem uma vez foi músico na vida é porque tem uma ligação forte com a coisa do som. Continuo ouvindo muita música sempre, todos os dias ouço alguma coisa nova ou re-ouço coisas antigas que gosto. Isso eu faço desde criança, muito antes mesmo de me tornar musicista. E, como gosto muito de Rock, algo que tem me feito ficar próximo da vida na estrada, já que não a tenho mais, é ler sobre a estrada dos outros. Nos últimos quatro anos li umas 40 biografias, a maioria delas sobre músicos. Isso se tornou praticamente uma especialidade em minha vida e um Hobby muito querido, que me faz sintonizar com o mundo mágico da mais incrível das artes. Seja lá onde for que eu esteja, tenho sempre uma biografia à mão.
Vislumbrando assim esse caminho percorrido, posso dizer que a maioria desses textos que vou citar têm algumas características que aprecio quando estou lendo, e que me desagradam se não estiverem presentes. A primeira delas é o estilo do autor. Isso é fundamental. Como a maioria são trabalhos de cunho jornalístico, se o autor for apenas um repetidor do modelo mainstream de hierarquização das informações, vai ficar meio chato. A base tem que ser mais reportagem antes de tudo, e não notícia, como algumas obras são. O autor deve sempre, com muito cuidado é claro, arriscar conclusões, opiniões e adjetivos para não deixar a coisa meramente descritiva. A segunda, é que a narrativa deve ser bem completa do ponto de vista bibliográfico, tentando superar de certa forma o que já foi escrito antes. Percebemos isso pelas citações do texto e pelas referências utilizadas ao final do livro. Não é difícil sacar quando aparece algo de novo em termos de informação. Por fim, prefiro biografias que retratem a vida do sujeito desde o início e em ordem cronológica (mania de historiador). Estes textos, bem completos, provaram ser os melhores, contrastando com aqueles que fogem do modelo clássico e, em que, frequentemente, tanto o autor quanto nós, leitores, perdemos o fio da meada.
Posto isto, queria dar umas dicas aqui, para caso o amigo leitor esteja interessado, de Biografias Musicais legais de serem lidas. Recomendo que se tenha sempre em mãos o correspondente sonoro do livro: os Álbuns da figura em questão. De preferência todos aqueles citados no livro. Não é muito difícil conseguir isso na Web. Se não der, pelo menos é legal dispor de algumas canções estratégicas mencionadas e indicadas pelos autores.

Classe A
Pra começar recomendo um autor de biografias: Ruy Castro. O cara é um Mestre! Ele controla o fluxo de consciência do leitor com uma incrível facilidade. Seu texto é rico e tem um vasto vocabulário. Ele é capaz de te deixar melancólico com as dificuldades enfrentadas por nossos heróis, ou simplesmente nos dobrar de rir. A gente sempre aprende muito com ele. É claro que não li tudo o que ele escreveu, mas posso dizer que sou capaz de recomendá-lo para vocês citando quatro trabalhos bem significativos. O primeiro é talvez o maior clássico sobre o gênero já escrito no país, “Chega de Saudade – A História e as Histórias da Bossa Nova” (Companhia das Letras, 1990). Magnético. E eu que nunca havia me encantado tanto com a Bossa assim passei um mês fissurado ouvindo João Gilberto. Que coisa. Na verdade a Bossa operou como um agente modernizador da música brasileira, aproximando-a do Jazz, mas sem afastá-la de sua raiz rítmica, trazendo o samba para as rodinhas de violão da classe média e da elite da zona sul do Rio de Janeiro. A Bossa fez a primeira síntese moderna que trouxe a MPB, na esteira do Tropicalismo que viria em seguida. Mas à parte desse blá, blá blá de historiador, as biografias em geral, e essa em particular, me fascinam pela construção da psiquê das personagens. Empolgante o processo de transformação de João Gilberto no primeiro grande cantor do movimento. Ele se isolou do mundo na casa de uma irmã no interior da Bahia, depois de peregrinar sem sucesso pelo Rio, e se transformou naquele que conhecemos. Também são narradas cenas hilárias dessa figura que à medida que envelhece, vai se tornando mais esquisito e isolado. É uma aula de História do Brasil dos Anos 50 e 60, recheada com muito bom humor e referências bastante eruditas sobre samba e Jazz (aproveite especialmente os comentários e impressões sobre grupos vocais e bandas de Jazz, que são muito refinadas, e como os grupos brasileiros ‘adotaram’ esse estilo). Conseguimos ali entender as personalidades de Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Nara Leão, Roberto Menescal, Ronaldo Bôscoli, e principalmente, JG.

Outro relato impressionante, é “Carmem, Uma Biografia” (Companhia das Letras, 2005). Aliando seu grande conhecimento de música e usando com maestria a História do período como pano de fundo, se torna possível sentir o Brasil e Os EUA do período 1920-50 pelas brilhantes e ricas descrições da cultura de época feitas por Ruy Castro. Carmem Miranda nos aparece como uma verdadeira heroína brasileira. Vinda de família de imigrantes portugueses ela tornou-se, como o próprio autor enfatiza na “Brasileira mais famosa do Século XX”. Conheceu dupla fama, primeiro no Brasil, depois nos EUA. Nunca realizou o sonho de sua vida que era casar e ter muitos filhos. Desde cedo abriu mão de tudo isso para se transformar em uma estrela, trabalhando feito louca e abusando de remédios pra dormir/relaxar que eram receitados pelos médicos de Hollywood livremente na época. Com a saúde degenerando com a idade e sem abrir mão de sua pesada agenda, morreu subitamente com apenas 46 anos, longe do Rio de Janeiro, a cidade que conquistou como rainha, muito jovem, e da qual partiu para poucas e conturbadas vezes voltar.

Ainda li “O Anjo Pornográfico – A Vida de Nelson Rodrigues” (Companhia das Letras, 1992) e “Estrela Solitária – Um Brasileiro chamado Garrincha” (Companhia das Letras, 1995), ambos extraordinários. O Primeiro, sempre como aula de História, coloca o Jornalismo e a Imprensa Brasileira em perspectiva analítica e cronológica, além de situar Nelson muito propriamente como um Conservador Progressista, ou algo assim, e o mais importante autor de teatro do país a partir de “Vestido de Noiva” (1943). O segundo, é uma tocante narrativa de, como um descendente de índios nordestinos criado no interior do RJ, na cidade de Pau Grande, se transformou em um dos primeiros jogadores de futebol brasileiro a se tornar mundialmente famoso. E de como, entregue à Cartolagem, à bebida, e possuindo como defesa apenas a segunda série do ensino fundamental, mal sabendo ler, toda essa fama se esvaiu subitamente, deixando o protagonista em uma situação trágica. O livro serviu pra esclarecer de vez o papel de Elza Soares. Muitos diziam que ela teria se aproveitado da fama de Mané. Ao contrário, se não fosse a celebridade da cantora, Garrincha não teria sobrevivido ao massacre da Imprensa quando, jogando mal e com o joelho irreversivelmente estragado, se descobriu que ele era bígamo, pois apesar de namorar e morar com Elza esbanjando dinheiro, mantinha a primeira mulher com seus muito filhos em sua cidade natal, em um estado de semi-pobreza.


Dois compêndios igualmente impactantes que considero clássicos do gênero foram “Vale Tudo – O Som e a Fúria de Tim Maia” de Nelson Motta (Objetiva, 2007) e “John Lennon –A Vida” por Phillip Norman (Companhia das Letras, 2009). Nelson Motta anda sempre por aí, quer pela produção cultural, quer por seu envolvimento com Jornalismo ou literatura, prezando sempre a qualidade dos artistas que divulga. Ele acompanhou de camarote o surgimento da Bossa Nova e do Tropicalismo, foi empresário de sucesso na noite carioca (recomendo também Noites Tropicais - Solos, improvisos e memórias musicais, Objetiva, 2000) e o que torna seus livros interessantes é justamente o fato de ele ter vivido as histórias que narra e convivido amplamente com os personagens que descreve. O texto é super leve, o que nesse caso, e pelo conteúdo bem articulado, é qualidade e não defeito. No caso de Tim, soma-se o fato dele ser muito louco e cheio de manias, uma figuraça. Somos relembrados o tempo inteiro sobre a “Ética Maia”, uma maneira muito particular de ver o dinheiro, a fama, o amor e os convivas.

Como beatlemaníaco e tendo lido muita coisa sobre o assunto que me caiu na mão eu digo, essa biografia sobre o John é incrível. A quantidade de detalhes, a precisão das descrições dos personagens e a ousadia em propor até um homossexualismo entre John e Paul, além de uma relação incestuosa com a mãe, são no mínimo chocantes. A descrição do Jovem de Liverpool é a mais minuciosa e pertinente que existe. Embora a mulher do falecido Beatle, depois de lê-la, tenha se recusado a endossá-la, há que se admitir: não houve biografia que mais a tenha favorecido. Aqui, Yoko aparece como uma mulher forte, que carregou Lennon nas costas enquanto ele estava perdido, soube como ninguém salvar os negócios da família, e não como uma aproveitadora. Na verdade dinheiro nunca foi seu problema, ela se tornou independente de seu pai, um banqueiro japonês, por iniciativa própria, para tornar-se uma artista de vanguarda. As teses de Norman são discutíveis, mas apesar das 600 e tantas páginas, é impossível largar. Me recordo de, em duas oportunidades, ter perdido horário pra ficar lendo, quase que enfeitiçado.
E na segunda parte, em breve, eu comento mais algumas.

.jpg)